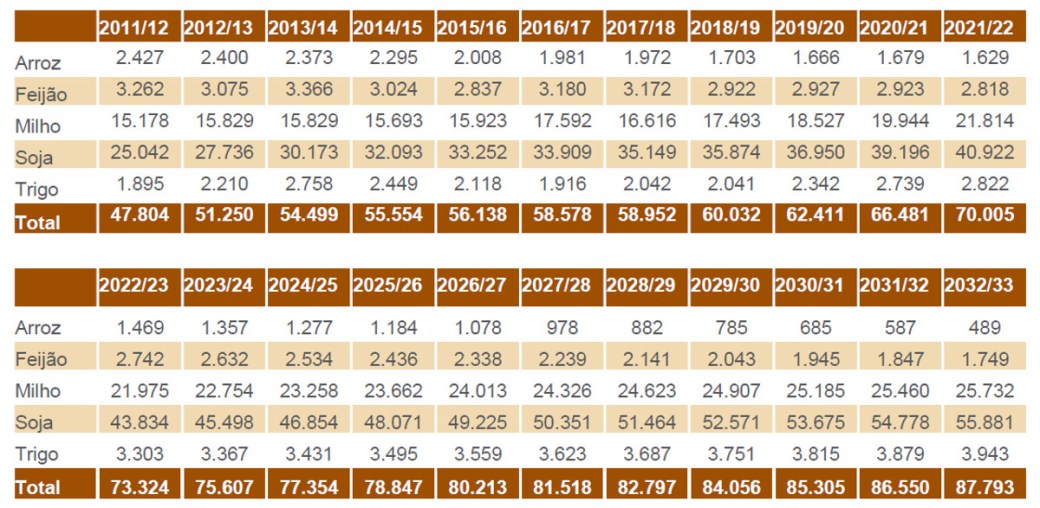O Plano Safra da Agricultura Familiar 2025/2026, lançado há pouco mais de uma semana, prevê R$ 89 bilhões a serem investidos nesse segmento do setor produtivo brasileiro. No dia seguinte, foi anunciado também o Plano Safra geral, que contempla o agronegócio, com um montante de R$ 516,2 bilhões para financiar o setor da agricultura e pecuária empresarial.
O contraste entre os valores, ainda mais considerando que o agronegócio é um setor altamente capitalizado que não necessita de dinheiro público para prosperar, mostra que o uso da agricultura para a produção de mercadorias para os mercados interno e externo ainda é uma prioridade sobre a produção de alimentos no país.
O Plano Safra foi criado em 2002 (denominado inicialmente Plano Agrícola e Pecuário) com o objetivo de fortalecer e estimular a expansão e a modernização da agricultura e da pecuária brasileira. No ano seguinte, sindicatos rurais e movimentos sociais ligados ao campo foram envolvidos na elaboração do Plano, de forma que agricultores familiares e assentados da reforma agrária pudessem melhor contribuir para atender à demanda por alimentos no contexto do programa Fome Zero, existente naquela época. Isso dá origem ao Plano Safra da Agricultura Familiar, editado pela primeira vez em 2003.
Os recursos do Plano Safra da Agricultura Familiar estão divididos em segmentos com finalidades específicas. O maior deles, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) foi contemplado com R$ 78,2 bilhões, o maior valor na série histórica.
Por meio do Pronaf, os pequenos produtores podem financiar tanto as despesas com insumos e mão de obra (custeio) como a aquisição de máquinas e sistemas que aumentem a capacidade produtiva (investimento). O programa oferece crédito para a produção de alimentos da cesta básica a uma taxa de juros de 3% ao ano. Essa taxa cai para 2% se o crédito for destinado ao custeio de produtos orgânicos, agroecológicos ou da sociobiodiversidade.
Há também o Pronaf Mais Alimentos, uma linha de crédito mais ampla que financia o investimento em tratores, colheitadeiras, caminhonetes, motocicletas, equipamentos adaptados a pessoas com deficiência, sistemas de armazenagem, ordenhadeiras, tanques e também a construção ou reforma de moradias rurais.
Parte da verba do Pronaf é voltada especificamente para incentivar a agroecologia. Nesta edição, as famílias com renda anual de até R$ 50 mil podem financiar a implantação de sistemas de base agroecológica ou em transição para sistemas de base agroecológica a uma taxa de juros de 0,5% ao ano.
Os quintais produtivos também são contemplados com suas especificidades. Mulheres rurais com renda de até R$ 50 mil podem custear a produção diversificada de alimentos no espaço ao redor da casa, podendo conciliar a atividade produtiva com a lida familiar.
Além do Pronaf, o Plano Safra da Agricultura Familiar inclui outras formas de incentivo. Por meio das compras públicas, o governo não apenas assegura o abastecimento de certos produtos (sendo também um instrumento no combate à inflação de alimentos) como também garante um preço digno a ser pago aos produtores. Há nesta edição do Plano R$ 3,7 bilhões destinados às compras públicas.
Algumas culturas estão sujeitas a perdas de safra em consequência de condições climáticas. Para proteger esses agricultores, existe a Garantia-Safra, que neste ano conta com R$ 1,1 bilhão.
Entre outros segmentos, há também R$ 240 milhões destinados a Assistência Técnica e Extensão Rural para agricultores familiares e R$ 42,7 milhões para garantir um pagamento fixo para alguns produtos da sociobiodiversidade brasileira.
A forma que o Plano Safra da Agricultura Familiar tem hoje é, em parte, resultado da incidência de movimentos sociais. Exemplo disso é o reconhecimento de quintais como unidades produtivas qualificadas para receber financiamento público, uma conquista da Marcha das Margaridas de 2023.
Somente a pressão da sociedade civil organizada pode fazer com que o incentivo público à agricultura familiar siga crescendo e a distância entre os apoios ao pequeno produtor e ao agronegócio possa diminuir ou mesmo, legítima utopia, ser superada.